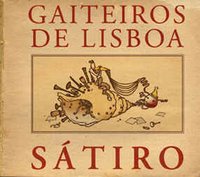Para encerrar o «capítulo» Ali Farka Touré, de boas-vindas a «Savane», aqui ficam dois textos paralelos: um relativo a «In The Heart of The Moon» e discos editados na mesma altura que, de alguma forma, se relacionam com esta parceria de Ali Farka com Toumani Diabaté; o outro, de delírio (sublinha-se: delírio) proto-musicológico sobre uma eventual raiz original do fado: o Império Mandinga. Os dois textos foram originalmente publicados no BLITZ em Junho do ano passado.
ALI FARKA TOURÉ, TOUMANI DIABATÉ (& OS OUTROS)
AZUL ESCURO

«In the Heart of the Moon» (World Circuit/Megamúsica), é o aguardadíssimo álbum de colaboração entre o mestre dos blues malianos Ali Farka Touré (que a Europa «descobriu», principalmente, depois do álbum de colaboração com Ry Cooder, «Talking Timbuktu») e o respeitadíssimo tocador de kora, também maliano, Toumani Diabaté (igualmente com uma parceria célebre com um americano, Taj Mahal, no álbum «Kulanian»). E «In the Heart of the Moon» é um disco de uma beleza rara, feito a um mesmo tempo de simples e intrincadas filigranas de som, construídas pelos dedos ágeis de Ali Farka na guitarra (que dá a base simples) e de Toumani na kora (com um interminável caleidoscópio de sons a tiracolo).
Ali vive no norte do Mali, em Niafunké, paredes meias com o deserto do Sahara e é de cultura Arma, Songrai e Peul, enquanto Toumani é um griot (da linhagem antiga de contadores de histórias através da música) de etnia Mandé. Mas, apesar das diferenças culturais e étnicas, isso não impede que os dois, neste álbum, se entendam à primeira. O álbum foi gravado de improviso, em Bamako, nas mesmas sessões que resultaram em mais dois discos: um de Ali (aqui em guitarra eléctrica e voz) com dois tocadores de n'goni e outro de Toumani com a Symmetric Orchestra, ambos a editar nos próximos meses pela World Circuit.
Em «In the Heart of the Moon» há alturas em que parece estarmos a ouvir um blues muito antigo, outras vezes um fado perdido em África (e o timbre da kora também ajuda à sensação), outras vezes uma morna ali vizinha, outras sons das Caraíbas. No concerto de Ali Farka Touré no Bozar, em Bruxelas, há algumas semanas, essas sensações são ainda mais evidentes, tanto quando Ali Farka toca e canta a solo ou com dois intérpretes de n'goni, como nos três temas, absolutamente mágicos, que protagonizou com Toumani. Neste concerto, Ali esteve três horas em palco, ora com a guitarra acústica, embalada pelos n'gonis, congas e cabaça, a passear - em transe - pelo Sahara e pelo Mali, ora em guitarra eléctrica nuns blues que viajam sobre campos de algodão americanos (e no psicadelismo, e no rock ácido...), ora com Toumani (e com um terceiro músico no baixo eléctrico) ajudando a fazer uma música maior do que a nossa imaginação alguma vez conseguiria desejar.
Um dia depois, numa conferência de imprensa, um jornalista europeu insiste em perguntar a Ali se a sua música é influenciada pelos blues. Ali só responde «eu faço música africana». Como se fosse um dado adquirido que os blues nasceram ali na sua terra ou lá muito perto. E diz mais coisas importantes, como a polémica frase «não há afro-americanos. Há negros na América mas eles já não sabem de que cultura, etnia, dialecto ou região descendem...».

Da mesma «família» de «In The Heart of The Moon» é o novo álbum de Boubacar Traoré, «Kongo Magni» (Marabi/Dwitza). Herói da música do Mali nos anos 60, esquecido depois e «recuperado» para a música em meados dos anos 80, Boubacar continua neste álbum belíssimo a fazer a ponte entre a música mandinga e os blues (e a presença irónica de uma harmónica em alguns temas ainda mais sublinha a herança). O acordeão de Régis Gizavo (de Madagáscar) leva ainda a música de Boubacar - e isto é tão bonito!! - para a Índia, o Nordeste brasileiro, o cajun e o zydeco.

Documento de uma altura de afirmação da música africana é a edição, agora, de um álbum perdido de colaboração entre dois malianos, o cantor Salif Keita e o guitarrista Kante Manfila, que gravaram as fitas originais deste «The Lost Album» (Cantos/Megamúsica) em 1980, na Costa do Marfim. Acompanhados por kora, balafon, um coro feminino, piano e trompete, o álbum flui naturalmente entre a música de raiz maliana (mas também pelo jazz e música cubana).

«Mandekalou - The Art and Soul of the Mande Griots» (Syllart/Megamúsica) é uma excelente introdução à música dos griots mandingas («mandé jéliou» em mandinga) e basta ouvir este álbum para perceber como esta música de transmissão oral de histórias e mitos - uma CNN ancestral - pode ser uma música de comunhão absoluta (neste disco encontram-se, a colaborar em conjunto, músicos e cantores de vários países e várias gerações).

Por sua vez, a colectânea «Le Blues Est Né en Afrique» (Cantos/Megamúsica) - só o título diz tudo -, é mais um manifesto na defesa da ideia da música oeste-africana como berço dos blues. Temas de cantores e/ou músicos (malianos, guineenses, senegaleses, congoleses...) como Idrissa Soumaoro, Salif Keita, Ismael Lo, Bambino, Tsahla Muana ou Kerfala Kanté «defendem», facilmente, a tese.

Finalmente, a colectânea «The Sahara» (World Music Network/Megamúsica) viaja pelo deserto - e suas «margens» - unindo as pontas da música gnawa, mandinga, tuaregue e outras. Este disco da excelente série The Rough Guide To... mostra a música feita pelos povos que habitam o Sahara - sim, há muitos milhares de pessoas que vivem neste imenso deserto - e nas suas vizinhanças, do gnawa de Hasna El Becharia aos blues ácidos dos tuaregues Tinariwen, passando pela música de luta e libertação de artistas ligados à Frente Polisário.
O FADO NASCEU NO MALI?


Há um chavão anglo-saxónico quando se fala de fado (e também das mornas e do choro e chorinho brasileiros...): «são os blues portugueses» (como da morna dizem «são os blues cabo-verdianos»). E se eles, por portas e travessas, tivessem razão?... Esta é uma teoria empírica, não científica, não historiográfica, não etno-musicológica e que pode ser vista apenas como um delírio livre sobre factos dispersos... Mas vamos lá:
1 - Já há bastante tempo que é um dado histórico aceite por quase toda a gente que os blues - música negra que se foi desenvolvendo no delta do Mississippi no séc. XIX e inícios do séc. XX - têm a sua origem na África Ocidental - a zona do antigo império mandinga que passa pelo Senegal, Gâmbia, Guiné, Guiné-Bissau e, principalmente, Mali --, teoria defendida por Samuel Charters (nomeadamente no seminal livro «The Roots of the Blues - An African Search») e, mais recentemente, pela série de filmes sobre os blues supervisionados por Martin Scorsese.
2 - Paralelamente, e apesar de terem provocado polémica no início, as teorias de José Ramos Tinhorão - nomeadamente no livro «Fado - Dança do Brasil Cantar de Lisboa (O Fim de um Mito)» - que defendem que o fado teve origem no lundum (ou lundu) brasileiro estão a ser cada vez mais aceites (vide livro de Rui Vieira Nery editado na colecção de discos de fado do jornal Público).
3 - Esta teoria defende que o fado é uma evolução do lundum, uma dança quente, dolente e erótica brasileira (com umbigadas - isto é, contactos da zona genital) nascida no grande caldeirão de culturas africanas que era a Bahia. Esta dança teria sido trazida para Lisboa e aqui teria evoluído para o fado actual, perdendo gradualmente a sua característica dançável, mas mantendo as outras características.
4 - É commumente aceite que o lundum tem origem nos escravos bantos, levados de Angola e Congo para o Brasil. Segundo a «Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura», o lundum é uma «dança também cantada, de origem africana, cuja raiz entronca no batuque... O Lundu tornou-se imensamente popular no séc. XVIII, tanto no nosso país (Portugal) como no Brasil, de onde veio». E no «Dicionário da História da Colonização Portuguesa no Brasil», o lundum é caracterizado como uma «dança popular brasileira, originária de manifestações musicais trazidas pelos escravos africanos da região de Angola e Congo».
5 - Mas (e aqui entra o «delírio)... e se o lundum não vem dos escravos bantos, mas sim dos escravos malês (ou das trocas entre os dois «grupos»)?... Razões para a minha dúvida: Apesar de haver uma maioria de escravos no Brasil de origem banto (Angola, Congo e Moçambique), na região da Bahia - recorde-se, defendida como o berço do lundum - a maior parte dos escravos era malê (uma corruptela de... Mali), escravos oriundos da zona mandinga, na sua maior parte muçulmanos (tal como ainda hoje a religião principal na zona ocidental de África, devido à sua proximidade com os povos muçulmanos do norte de África... o deserto do Sahara não foi barreira para a evangelização islâmica).
6 - A importância dos malês na Bahia é reconhecida por inúmeros historiadores. E marca do seu seu peso dentro da comunidade escrava é a história do Levante dos Malês, em 1835, uma importantíssima rebelião de escravos em Salvador. Ainda agora a cidade de Salvador celebra esta revolta: no carnaval da Bahia passou um bloco chamado Malê Debalê e um outro, Ilê Aiyê, que homenageou claramente o Mali. E o escritor Antônio Risério escreve, embora apontando algumas dúvidas: «o sucesso do bloco afro Malê Debalê, junto com a revalorização popular das revoltas islâmicas, criou uma espécie de mito em torno dos malês. Hoje na Bahia qualquer negro informado, alguns com certa ponta de esnobismo (compreensível, mas condenável), afirma ser descendentes dos malês».
7 - O lundum ainda é uma forma musical viva, não no Brasil ou em Portugal (ou nas ilhas dos Açores, onde foi importante durante o séc. XIX), mas no Peru (nomeadamente na música da diva peruana Susana Baca, que mantém nos arredores de Lima um instituto dedicado ao estudo da ligação da música africana com a música peruana, o Instituto Negro Continuum) e em Cabo Verde (aqui também chamado landu ou gandum), onde no passado se desenvolveu bastante, principalmente nas ilhas do barlavento e na Boavista. Segundo as teorias mais aceites, o lundum cabo-verdiano foi levado pelos brasileiros para o arquipélago e ali permaneceu. Mas fica outra pergunta: este lundum cabo-verdiano veio mesmo do Brasil? Ou veio de ali de muito mais perto (da Guiné-Bissau e de outros países mandinga), através dos escravos levados do continente ali mesmo ao lado? Ou poderá ser uma mistura das duas coisas?
8 - Repete-se. Esta «teoria» é empírica, delirante, feita de umas pontas soltas e, porventura, de outras mal atadas [não entro, por exemplo, na influência da música gnawa de Marrocos na música dos griots e outras manifestações mandingas - e, consequentemente, nos blues norte-americanos... A propósito, não há quem defenda que o fado poderá ter vindo do norte de África?]. Mas ao ouvir este conjunto de discos falados aqui ao lado, não deixo de sentir que há ali, muitas vezes, cordas que vibram naturalmente no meu coração português, digamos, fadista. Cordas vocais, cordas de kora (e como este instrumento soa tantas vezes a... fado) e, principalmente, cordas escondidas na alma.